PM censura WhatsApp de policiais. Direito de expressão e opinião no militarismo
abril 29, 2015 11:43
Memorando interno determina que os policiais peçam autorização de seus superiores para enviar mensagens que mencionam a corporação
- Felippe Aníbal e Diego Ribeiro
A Polícia Militar (PM) do Paraná apertou ainda mais a mordaça que já impedia policiais de se manifestarem publicamente. Desta vez, a corporação decretou a censura de mensagens que, eventualmente, os militares queiram repassar via aplicativos – principalmente WhatsApp – de seus celulares particulares. O conteúdo terá de ser analisado previamente pelos superiores hierárquicos antes de ser disparado, sob pena de punição.
PM afirma que celular desvia atenção no policiamento
Por meio de nota, a Polícia Militar do Paraná afirmou que o memorando interno da corporação não se trata de proibição ou censura. Segundo o texto da nota, o documento está pautado em orientações baseadas em casos constatados de postagens que “chegam à agressão, injúria e difamação, além da divulgação de assuntos estratégicos que podem comprometer as atividades policiais.”
O texto explica ainda que a circular também tem o objetivo de evitar que policiais militares utilizem o celular durante o turno de serviço, na viatura ou em pontos de policiamento. “[Uso do celular] desvia a atenção do que realmente importa: a prestação de serviço à comunidade”, esclarece o texto.
A determinação consta do memorando-circular 69/2015, a que a Gazeta do Povo teve acesso. Segundo o documento assinado pelo corregedor-geral da PM, coronel Arildo Luiz Dias, “toda mensagem ou conteúdo degradante, difamatório ou calunioso ou que exponha a corporação” terá de ser avaliado pelos comandantes, diretores ou chefes das unidades. Em caso de desobediência, os militares ficam sujeitos à ação disciplinar.
O memorando ressalta que, além dos policiais que postarem originalmente as mensagens, quem “conhecendo ou devendo conhecer sua natureza imprópria” repassá-las ou difundi-las também será sancionado na mesma medida.
Entre as justificativas do documento, Dias indica que a determinação é uma tentativa de silenciar a tropa. “Oficiais e praças, irregular e ilegalmente, têm tecido comentários desairosos, ofensivos, difamatórios e/ou caluniosos em desfavor de empresas e instituições”, diz o texto.
Um policial militar, que pediu para não ser identificado, contestou o memorando e ressaltou que a Constituição Federal não diferencia o militar do cidadão comum. “Isso é absurdo. Viola os direitos humanos, inclusive”, afirmou.
Constituição
Três décadas depois do fim da Ditadura Militar, a PM do Paraná ainda é regida pelo Regulamento Disciplinar do Exército (RDE). Apesar de ter sido atualizada, a norma abre precedentes para que a corporação continue a impor censura a seus militares. Mais do que os limites legais, o RDE parece contribuir para perpetuar a cultura do “obedecer sem questionar”.
O decreto estadual 9.192/2010, de certa forma, protegia os militares, ao proibir a instauração de processos ou sindicâncias contra servidores estaduais que exercessem o direito de expressão. O decreto 8.827/2013, assinado pelo governador Beto Richa (PSDB), no entanto, colocou uma brecha nessa garantia. A norma estabeleceu como exceção “as manifestações que configurem transgressão da disciplina militar”.
Tanto o RDE quanto o decreto 8.827 conflitam com o artigo 5.º da Constituição, que garante aos cidadãos o direito à livre expressão, “independentemente de censura ou licença”.
Associação vai à Justiça contra censura
A Associação dos Praças do Estado do Paraná (Apra-PR) vai entrar com uma ação na Vara da Justiça Militar com o objetivo de garantir o direito à livre expressão dos policiais militares. Para o presidente da entidade, Orélio Fontana Neto, a censura explicitada pela circular do corregedor da PM representa um retrocesso frente às recentes discussões sobre segurança pública no país. “Isso que está sendo feito é mais próprio de uma ditadura do que de um regime democrático. Vai contra tudo que está sendo debatido em polícias de outro estado e o que está sendo defendido pelo próprio Ministério da Justiça”, disse.
Apesar de parecer impossível a PM controlar tudo o que os policiais postam via WhatsApp, a determinação exerce uma pressão psicológica que afeta diretamente os policiais. Um soldado ouvido pela reportagem confirma que deixou de usar o aplicativo. “Estão infiltrando oficiais nos grupos. Qualquer comentário que a gente faça, já é passível de punição. Perdem tempo e dinheiro do estado para perseguir a gente”, disse.
A Apra-PR confirma. Fontana disse que, recentemente, a PM cortou o fornecimento nos quartéis de alimentação dos policiais que estão em serviço. Os militares têm levado marmita de casa. “Por medo, ninguém ousou fotografar o comunicado afixado na entrada do refeitório. Eles [o comando da PM] exercem o controle pelo medo”, comparou.
Amai
O advogado da Associação de Defesa dos Direitos dos Policiais Militares Ativos, Inativos e Pensionistas (Amai), Marison Luiz Albuquerque, afirmou que o memorando prega a censura na corporação. “É censura. Vejo como uma forma de imposição através do medo. É para o policial não dar opinião. Tolhe a cidadania do policial”, disse, em entrevista por telefone.
Albuquerque afirmou ainda que o memorando mostra a clara vontade de que não haja intenção mudança na corporação. “Precisamos humanizar a PM. Isso visa muito mais a proteção de quem está no comando e não quer mudança. Isso vem se repetindo ao longo dos anos. Muda o comandante, mas a política é a mesma”, explicou.
Fonte: http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/pm-censura-whatsapp-de-policiais-2bw0lxf7eyi0xvh42p952jcgj
Investigadora da Polícia Civil é baleada em tiroteio com PMs
abril 29, 2015 8:25Marido da vítima morreu no local após ser atingido por oito tiros nas costas; Polícia Militar não confirma que os disparos tenham saído da arma dos militares
PUBLICADO EM 28/04/15 - 19h57
CAMILA KIFER
RAFAELA MANSUR
Uma investigadora da Polícia Civil foi baleada e o marido dela morto na noite desta terça-feira (28) no bairro Pongelupe, região do Barreiro. A princípio, o tiroteio teria começado depois de desentendimentos com três policiais militares. O marido da policial, que estaria com ela no momento do crime, foi morto após ser atingido por oito tiros. O corpo dele foi encontrado em uma calçada ao lado da mata onde teria acontecido o tiroteio.
A Polícia Militar (PM) não confirma que os disparos tenha saído da arma dos militares, mas explicou que o trio realmente estava no local.
Já a Polícia Civil declarou que o caso já está sendo investigado. A Secretaria de Estado de Defesa Social (SEDS) também foi procurada pela reportagem de O TEMPO e explicou que já está apurando os fatos, mas não irá se pronunciar sobre a situação para não atrapalhar a segurança da investigação.
De acordo com informações da SEDS, o secretário Bernardo Santana está em contato com as duas corporações, e vai se pronunciar nesta quarta-feira (29).
Segundo testemunhas, a troca de tiros aconteceu na rua Augusto de Góis, no bairro Pongelupe, por volta de 19h30. A policial Fabiana Aparecida Sales, lotada em Ibirité, na Grande BH, foi atingida na nádega e encaminhada para o Hospital Júlia Kubistchek. A vítima passou por cirurgia e seu quadro é estável.
Já o corpo do companheiro de Fabiana, o mecânico Felipe Sales, de 32 anos, foi encontrado já sem vida próximo à linha férrea, nas imediações da praça da Febem. Conforme informações da perícia, ele foi atingido por quatro tiros nas costas, três na coxa esquerda e um no abdômen.
Ainda não há uma versão oficial que explique o que teria motivado a troca de tiros e quem teria atingido as vítimas.
Possibilidades
Uma das versões para o crime é de que três militares às paisana estariam dentro de uma mata praticando tiro ao alvo. A investigadora e o marido, que moram em uma casa, que fica em frente a mata, escutaram os disparos e saíram desconfiado. Ao encontrar o trio, o casal suspeitou que seriam assaltantes. A dupla teria tentado abordar o trio, que também desconfiou da investigadora e do marido dela. Foi quando deu-se o tiroteio.
Outra versão dos moradores que presenciaram o fato é que o trio de militares estaria na praça, fazendo uso de bebidas alcoólicas, quando o casal passou pelo local. Eles teriam cantado a investigadora. O marido dela, que estaria armado, teria dado tiros contra os três policiais, que revidaram.
Uma terceira versão dá conta que os três suspeitos teriam uma dívida com o marido da investigadora, que, segundo um morador, seria vendedor de ouro.
Nenhuma das versões foram confirmadas pela Polícia Civil.
Buscas pelos suspeitos
O ocorrido mobilizou ao menos 15 viaturas da Polícia Civil, que chegaram rapidamente à praça. No tempo em que a reportagem esteve no local, apenas uma equipe da Polícia Militar permaneceu presente.
Os três militares foram identificados e encaminhados para a sede do 41º Batalhão. Duas armas foram apreendidas no endereço, mas ainda não se sabe a quem elas pertenciam.
O delegado Ramon Sandoli, que esteve no local, explicou que não há nada esclarecido. "As investigações ainda não apontam para nada", esquivou-se.
Fonte: Jornal o tempo - Atualizada às 23h16.
Com novo CPC, ação de dano moral deixa de ser porta da esperança
abril 29, 2015 8:13CONCURSO DE PROGNÓSTICOS
O Novo Código de Processo Civil, sancionado em 16 de março de 2015, exigirá cautela e prudência ainda maiores das partes e de seus procuradores quando do ajuizamento de ação de indenização por dano moral.
Explico. Na atual jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, em consonância com o CPC/1973, ainda vigente, ao autor da ação de indenização por dano moral basta formular pedido genérico de condenação neste sentido e atribuir um valor simbólico à causa. Feito isto, a petição inicial é apta. Sucumbindo o autor, os honorários a seu desfavor serão fixados através de juízo de equidade.
A partir da vigência do NCPC/2015 as coisas serão bem diferentes. Ao autor, na sua petição, caberá atribuir à causa o valor preciso do ressarcimento pecuniário do dano moral pretendido (artigo 292, inciso V). O que significa dizer por consequência que o pedido deverá mensurar o valor do dano moral, sendo vedado ao autor formular pedido genérico de condenação ou usar daquela conhecida expressão “em valores acima de x”.
No caso de sucumbência do autor, e é aí que esse demandante deverá tomar muito cuidado, os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de 20% sobre o valor da atualizado da causa (artigo 85, parágrafo 2º). Sentença que julga pedido improcedente é de cunho declaratório-negativo, não possuindo conteúdo condenatório, muito menos proveito econômico a ser obtido por qualquer das partes, para efeito de base de cálculo da verba honorária.
Assim, o NCPC/2015 a partir de sua vigência sepultará de uma vez por todas aquelas ações indenizatórias por dano moral que mais se assemelhavam a concurso de prognósticos ou porta da esperança. Igualmente, a gananciosa pseudo vítima do sempre esperado dano moral estará fadada à sua extinção natural. Talvez sobreviva nos Juizados de Pequenas Causas Cíveis.
A falta de regramento expresso no atual CPC/1973 fez com que cenas do cotidiano forense fossem memoráveis. Em razão de meros aborrecimentos ou contratempos da vida diária nas grandes cidades alguns autores formulavam — e ainda formulam — pedidos de indenização por danos morais na casa de milhões ou bilhões (!) de reais. Sabedores estes de que, em caso de sucumbência, seus pedidos não serão correlacionados ao valor da causa e, assim, não servirão de base de cálculo para a verba honorária.
Em síntese, o NCPC/2015 exigirá que advogados e defensores públicos sejam exímios conhecedores e profundos estudiosos dos valores arbitrados a título de dano moral, de modo iterativo, pelos tribunais superiores, em cada evento específico da seara da responsabilidade civil contratual e extracontratual. Sob pena de arruinarem seus patrocinados em caso de sucumbência total ou parcial da ação indenizatória mal sucedida.
Carlos Eduardo Rios do Amaral é defensor público do estado do Espírito Santo
Revista Consultor Jurídico
Provas colhidas acidentalmente são aceitas pela jurisprudência do STJ
abril 28, 2015 17:34A colheita acidental de provas, mesmo quando não há conexão entre os crimes, tem sido admitida em julgamentos mais recentes. Esse descobrimento casual de novas informações que pode levar a novos crimes é chamado de serendipidade. A expressão vem da lenda oriental sobre os três príncipes de Serendip, que eram viajantes e, ao longo do caminho, fizeram descobertas sem ligação com seu objetivo original.
A validade dessas provas encontradas casualmente já foi discutida inúmeras vezes pelo Judiciário e pela doutrina jurídica. Inicialmente, a orientação do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal era validar o fato descoberto acidentalmente, desde que houvesse conexão com a investigação original.
Hoje, a colheita acidental de provas mesmo quando não há conexão entre os crimes já tem sido admitida. Por exemplo, o ministro João Otávio de Noronha abordou o tema em uma sessão em que a Corte Especial recebeu denúncia contra envolvidos em um esquema de venda de decisões judiciais no Tocantins (APn 690).
Durante o caso, que apurava o uso de moeda falsa, a Justiça Federal no Tocantins percebeu que as escutas telefônicas revelavam que decisões judiciais estavam sendo negociadas por desembargadores. A investigação foi então remetida ao STJ, por conta do foro privilegiado das autoridades.
O ministro ponderou que a serendipidade “não pode ser interpretada como ilegal ou inconstitucional simplesmente porque o objeto da interceptação não era o fato posteriormente descoberto”. Com isso, o magistrado determinou a abertura de um novo procedimento específico. Segundo ele, seria impensável entender como nula toda prova obtida ao acaso.
Anteriormente, em 2013, Noronha já havia apresentado o mesmo entendimento sobre o assunto. “O encontro fortuito de notícia de prática delituosa durante a realização de interceptações de conversas telefônicas devidamente autorizadas não exige a conexão entre o fato investigado e o novo fato para que se dê prosseguimento às investigações quanto ao novo fato”, disse.
Também em 2013, no HC 187.189, o ministro Og Fernandes afirmou que é legítima a utilização de informações obtidas em interceptação telefônica para apurar conduta diversa daquela que originou a quebra de sigilo, desde que por meio dela se tenha descoberto fortuitamente a prática de outros delitos. Caso contrário, “significaria a inversão lógica do próprio sistema”.
O caso julgado tratava de denúncia formulada pelo MPF a partir de desdobramento da operação Bola de Fogo, cujo objetivo era apurar a prática de contrabando e descaminho de cigarros na fronteira. No entanto, a denúncia foi por outros crimes – formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Por isso, a defesa sustentava a ilegalidade das provas e queria o trancamento da ação penal.
Em seu entendimento, Og Fernandes asseverou que não houve irregularidade na investigação. “Não se pode esperar ou mesmo exigir que a autoridade policial, no momento em que dá início a uma investigação, saiba exatamente o que irá encontrar, definindo, de antemão, quais são os crimes configurados”, afirmou.
“Logo, é muito natural que a autoridade policial, diante de indícios concretos da prática de crimes, dê início a uma investigação e, depois de um tempo colhendo dados, descubra algo muito maior do que supunha ocorrer”, concluiu.
Inclusão de novos acusados
A jurisprudência também aceita a possibilidade de se investigar um fato delituoso de terceiro descoberto fortuitamente, desde que haja relação com o objeto da investigação original. Esse foi o entendimento da Quinta Turma do STJ ao julgar o RHC 28.794. O caso envolvia a interceptação de um corréu e resultou em denúncia por corrupção passiva contra esse terceiro, que não era o objetivo da investigação.
A ministra Laurita Vaz, relatora do caso, destacou em seu voto que tal circunstância não invalida a utilização das provas colhidas contra esses terceiros. “A descoberta de fatos novos advindos do monitoramento judicialmente autorizado pode resultar na identificação de pessoas inicialmente não relacionadas no pedido da medida probatória, mas que possuem estreita ligação com o objeto da investigação”, disse.
Em outro caso, referente ao HC 144.137, o ministro Marco Aurélio Bellizze também reconheceu que a interceptação telefônica vale também para outros crimes ou pessoas, até então não identificados, que vierem a se relacionar com as práticas ilícitas. Segundo ele, tudo o que for obtido por escutas judicialmente autorizadas será lícito, e novos fatos poderão envolver terceiros inicialmente não investigados. “Ora, a autoridade policial, ao formular o pedido de representação pela quebra do sigilo telefônico, não poderia antecipar ou adivinhar tudo o que está por vir”, disse.
A investigação apurava um esquema de corrupção no Ibama e as escutas recaíram sobre um servidor do órgão. Porém, o Ministério Público ofereceu denúncia por corrupção ativa contra um empresário, supostamente beneficiado pelo esquema.
Prática futura de crime
Em relação à informações que comprovem prática futura de crime, há precedente do STJ que delimita não ser necessário exigir a demonstração de conexão entre o fato investigado e aquele descoberto por acaso em escutas legais.
Para o relator do caso referente ao HC 69.552, ministro Felix Fischer, além de a Lei 9.296/96 não exigir tal conexão, o estado não pode ficar inerte diante da ciência de que um crime vai ser praticado. O juiz também ressaltou que a violação da intimidade foi realizada com respaldo constitucional e legal.
Na investigação, as interceptações eram direcionadas a terceiro alheio ao processo, mas revelaram que uma quadrilha pretendia assaltar instituições bancárias. Felix Fischer esclareceu que nem sempre são perfeitas a correspondência, a conformidade e a concordância previstas na lei entre o fato investigado e o sujeito monitorado. De acordo com o ministro, “pode ser, também, que haja a descoberta da participação de outros envolvidos no crime. Enfim, inúmeras possibilidades se abrem”.
Para Fischer, a exigência de conexão entre o fato investigado e o fato encontrado fortuitamente só se coloca para as infrações penais passadas. Quanto às futuras, “o cerne da controvérsia se dará quanto à licitude ou não do meio de prova utilizado, a partir do qual se tomou conhecimento de tal conduta criminosa”.
Novas investigações
A utilização da interceptação telefônica como ponto de partida para nova investigação também é possível. De acordo com entendimento do ministro Jorge Mussi, é “perfeitamente possível que, diante da notícia da prática de novos crimes em interceptações telefônicas autorizadas em determinado procedimento criminal, a autoridade policial inicie investigação para apurá-los, não havendo que se cogitar de ilicitude”.
A decisão acima aborda o julgamento do HC 189.735, referente à operação Turquia. Nesse caso foram investigadas irregularidades na importação de medicamentos, mas, após meses de monitoramento, foi percebido que os suspeitos haviam desistido da ação.
Apesar disso, as interceptações revelaram relações “promíscuas” de servidores públicos com a iniciativa privada. Desse modo, foi efetuado o desmembramento do inquérito para a apuração dessas outras condutas, resultando na operação Duty Free.
Sigilo bancário e fiscal
Em relação às descobertas inesperadas decorrentes da quebra de sigilo bancário e fiscal. A Sexta Turma do STJ, no HC 282.096, reconheceu a legalidade das provas que levaram a uma denúncia por peculato, crime que não havia originado a solicitação dos dados financeiros em questão.
O relator, ministro Sebastião Reis Júnior, mencionou que as medidas de quebra do sigilo bancário e fiscal não terem como objetivo inicial investigar o crime de peculato não retira a importância dos elementos indiciários acerca do crime.
Busca e apreensão
No RHC 45.267, a Sexta Turma analisou a serendipidade no cumprimento de mandado de busca e apreensão. O mandado autorizava a apreensão de documentos e mídias em determinado imóvel pertencente à investigada, suspeita de receber propina em razão de cargo público.
No cumprimento da medida, a polícia acabou apreendendo material que foi identificado como do marido da investigada. Ao analisar o conteúdo, a polícia constatou diversos indícios de que ele também teria participação no suposto esquema. Com isso, o novo envolvido passou a ser investigado e buscou, por meio de habeas corpus, o reconhecimento da ilegalidade da prova colhida no local onde foi feita a busca.
Na decisão da Sexta Turma, por maioria (três a dois), a desembargadora convocada Marilza Maynard, ponderou sobre a dificuldade da polícia em identificar a propriedade de cada objeto apreendido, pois o local era comum do casal, onde ambos habitavam e trabalhavam. Ela também comentou que, em virtude de a perícia ter encontrado nos documentos apreendidos indícios de envolvimento do marido, era possível indiciá-lo com base nessas provas.
Flagrante
Em outro julgamento, também na Sexta Turma, os ministros analisaram um caso (RHC 41.316) em que, no cumprimento de mandado de busca e apreensão, foram encontrados armas e cartuchos na residência do investigado, dando início a uma nova ação penal.
A relatora, ministra Maria Thereza de Assis Moura, destacou em seu voto que, como o delito do artigo 16 da Lei 10.826/03 é permanente, o flagrante persiste enquanto as armas e munições estiverem em poder do agente. As provas encontradas fortuitamente foram consideradas legais. Com informações da Assessoria de Imprensa do STJ.
Revista Consultor Jurídico
Ao contrário do Brasil, EUA discutem o aumento da maioridade penal
abril 28, 2015 5:43Estados norte-americanos discutem aumentar a maioridade penal. No Texas, já são três projetos que propõe elevar de 17 para 18 anos a idade de jovens submetidos à legislação penal criminal. Em Nova Iorque o governo local convocou uma corte para recomendar o aumento de 16 para 18 anos a maioridade penal e, na da Carolina do Norte e em Wisconsin, a campanha "Aumente a idade" ganha corpo. Apesar desse movimento apenas 9 entre os 50 estados daquele país tratam réus menores de 18 anos como adultos. Nos demais estados, assim como no Brasil, os jovens infratores são encaminhados para instituições corretivas. Entretanto, a legislação da maioria dos estados permite que juízes determinem que menores de 18 anos sejam encaminhados à Justiça comum, em casos de crimes graves.
Enquanto o Congresso brasileiro debate a redução damaioridade penal, alguns Estados americanos tomam direção contrária e discutem elevar a idade em que jovens são tratados como adultos pela Justiça. Nos Estados Unidos, temas como esse são definidos pelos Estados.
No Texas, segundo Estado mais populoso e um dos mais conservadores dos Estados Unidos, três projetos de lei em tramitação pretendem elevar de 17 para 18 anos a idade para alguém ser julgado pela Justiça comum.
Em Nova York, uma comissão convocada pelo governador recomendou ao Legislativo que a idade deveria subir dos atuais 16 para 18 anos.
A campanha "Raise the Age" (algo como "Aumente a idade") também ganhou destaque neste ano na Carolina do Norte e em Wisconsin.
Atualmente, 9 dos 50 Estados americanos tratam réus menores de 18 anos como adultos. No resto do país, geralmente jovens infratores são encaminhados para o sistema de Justiça juvenil.
Mas há exceções, já que o sistema legal americano permite que juízes levem menores à Justiça comum se o crime for considerado grave.
Autoridades federais vêm adotando medidas no sentido de proteger menores infratores. Em 2003 foi instituída lei federal para combater estupros em presídios que determinou a separação física entre menores de 18 anos e adultos. Em 2012, a Suprema Corte vetou a aplicação de prisão perpétua a menores.
MATURIDADE
"Pela minha experiência, uma coisa é clara: um jovem pode ser alto e forte como adulto, mas não há garantia de que ele tem maturidade para avaliar consequências e capacidade de tomar decisões do mesmo modo que adultos", diz a deputada estadual do Texas Ruth McLendon, 71.
Membro do Partido Democrata, ela trabalhou por 17 anos como supervisora de jovens infratores antes de entrar na política.
Na semana passada, o subcomitê de Justiça Juvenil e Assuntos de Família do Legislativo texano convocou uma audiência para discutir a mudança na lei do Estado –onde a maioridade penal aos 17 anos vigora desde 1918.
Foi apresentado relatório que apontou que apenas 3% dos adultos presos no Texas em 2013 tinham menos de 18 anos. A maioria deles respondia por crimes de menor potencial ofensivo, como roubo, posse de maconha ou posse/consumo de bebida alcoólica (proibida no Texas para menores de 21 anos).
Críticos da elevação da maioridade questionam os custos da mudança. Segundo o relatório, um preso comum custa cerca de US$ 50 por dia ao Estado, enquanto um jovem internado em centro juvenil custa US$ 367/dia.
Além disso, dizem que falta estrutura à Justiça juvenil para lidar com mais casos e que não há instalações suficientes para abrigar mais jovens infratores.
Defensores dos projetos de aumento da maioridade argumentam que a criminalidade de adolescentes vem caindo nos EUA –em 2013, a taxa de menores presos foi a menor em 38 anos– e que não será preciso construir mais centros de internação.
Dizem ainda que, ao serem internados e terem mais atividades educativas, os jovens têm menos chance de cometer crimes no futuro.
Outro estudo, do comitê de Jurisprudência Criminal do Texas, estima "que cada jovem reabilitado pode economizar entre US$ 1,7 milhão e US$ 2,3 milhões em custos futuros para a Justiça criminal"
Igreja Universal terá que reconhecer vínculo com policial militar
abril 28, 2015 5:33SEGURANÇA PRIVADA
A Igreja Universal do Reino de Deus foi condenada a reconhecer vínculo de emprego com um policial militar que prestava serviço como segurança em uma das filiais da instituição em Belo Horizonte (MG). A decisão é da 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, que não acolheu o recurso interposto pela instituição religiosa. O colegiado levou em consideração a Súmula 386 da corte.
O ministro Augusto César de Carvalho, que relatou o caso, explicou que a orientação vai no sentido de se reconhecer a relação de emprego entre policial militar e empresa privada independentemente do eventual cabimento de penalidade disciplinar imposta pela corporação devido ao acúmulo de funções.
O policial começou a trabalhar na Igreja Universal em outubro de 2003, sem a assinatura da carteira de trabalho, e foi demitido em fevereiro de 2008. Nesse período, sua escala de serviço era compatível com a da Polícia Militar.
A 10ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte reconheceu o vínculo e determinou o registro na carteira de trabalho, assim como o pagamento de horas extras e verbas rescisórias. A igreja recorreu. Argumentou que, por ser policial militar, não há em que se falar em vínculo empregatício já que a prestação de serviço privada seria "expressamente vetada" pelo regulamento interno da Polícia Militar. Segundo a Universal, o caso seria similar ao da contração sem concurso pelo serviço público ou a acumulação remunerada de cargos públicos.
O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (MG) não acolheu o recurso. A corte considerou a sentença "clara e objetiva quanto à presença dos pressupostos da relação de emprego", estando o recurso da Igreja "em confronto à Súmula 386". A Universal quis ir ao TST, mas o TRT-3 negou-lhe a possibilidade de recorrer ao tribunal superior. A igreja, então, interpôs Agravo de Instrumento para tentar liberar seu recurso de revista, trancado pela corte de segunda instância.
A 6ª Turma não deu provimento ao recurso com base nas Súmula 386, que reconhece o vínculo privado com policiais militares, assim como na Súmula 126, que não permite o reexame de fatos e provas. Com informações da Assessoria de Imprensa do TST.
AIRR-35840-57.2008.5.03.0010
Revista Consultor Jurídico
DROGAS: A necessidade da legalização
abril 28, 2015 5:27Apresentamos a seguir a íntegra do artigo de Maria Lucia Karam, juíza aposentada e presidente do Leap Brasil, que foi exposto ao Fórum das Pastorais Sociais da Arquidiocese de São Paulo no mês de março.
Maria Lucia enfatiza que os integrantes do Leap são contra os efeitos danosos das drogas, mas que é preciso que haja legalização do uso para regular a produção, o comércio e consumo de todas as drogas.
“A proibição não é apenas uma política falida. É muito pior do que simplesmente ser ineficiente. A proibição causa danos muito mais graves e aumenta os riscos e os danos que podem ser causados pelas drogas em si mesmas”, consta em um dos trechos do artigo.
Drogas: a necessidade da legalização
Falo em nome da LEAP – a Law Enforcement Against Prohibition, que, no seu ramo brasileiro, se traduz como Agentes da Lei Contra a Proibição (a LEAP BRASIL). A LEAP é uma organização internacional, formada para dar voz a policiais, juízes, promotores e demais integrantes do sistema penal (na ativa ou aposentados) que, por sua vivência, percebem a falência e, mais ainda, os danos e os sofrimentos provocados pela atual política de proibição às selecionadas drogas tornadas ilícitas, por isso claramente se pronunciando pela legalização e consequente regulação da produção, do comércio e do consumo de todas as drogas.
Lembro que, quando esteve no Rio, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude, o Papa Francisco falou em entrevista: “Gosto quando alguém me diz: ‘eu não estou de acordo’. Esse é um verdadeiro colaborador”. Efetivamente, nós da LEAP discordamos de algumas considerações externadas por ele sobre a proposta de legalização e gostaríamos de colaborar no tão necessário e urgente debate sobre esse tema das drogas.
Partimos, no entanto, de uma concordância com o Papa Francisco e com todos, cristãos ou não, que se preocupam com o potencial destrutivo das drogas e se solidarizam com o sofrimento advindo de seu consumo abusivo. Com efeito, logo no item 1 de nossa declaração de princípios[1], nós, integrantes da LEAP, deixamos claro que não incentivamos o uso de drogas e temos profundas preocupações com os danos e sofrimentos que o abuso dessas substâncias, lícitas ou ilícitas, pode causar.
No entanto, nós, integrantes da LEAP, percebemos que a proibição e sua política de “guerra às drogas” causam ainda maiores danos e sofrimentos.
As drogas que hoje são ilícitas, como a maconha, a cocaína, a heroína, foram proibidas, em âmbito mundial, no início do século XX. Nos anos 1970, a repressão aos produtores, comerciantes e consumidores dessas substâncias foi intensificada, com a introdução de uma política explicitamente fundada na guerra. Com efeito, a chamada “guerra às drogas” foi declarada pelo ex-presidente norte-americano Richard Nixon, nos Estados Unidos da América, em 1971, logo se espalhando pelo mundo.
Essa política explicitamente fundada na guerra tem se revelado incapaz de atingir o objetivo de eliminar ou pelo menos reduzir a disponibilidade das substâncias proibidas. Com efeito, passados 100 anos de proibição, com seus mais de 40 anos de guerra, não houve nenhuma redução na circulação de tais substâncias. Ao contrário, nesses anos todos, as selecionadas drogas tornadas ilícitas ficaram mais baratas, mais potentes, mais diversificadas e muito mais acessíveis do que eram antes de serem proibidas e de seus produtores, comerciantes e consumidores serem combatidos como “inimigos”.
A própria Organização das Nações Unidas (ONU) que, em 1998, prometia um mundo sem drogas em dez anos[2], posteriormente viu-se constrangida a reconhecer a expansão e diversificação do mercado das drogas ilícitas. Em relatório divulgado em março de 2014[3], o Secretariado de seu Escritório para Drogas e Crimes (UNODC) estimou que de 167 milhões a 315 milhões de pessoas entre 15 e 64 anos teriam usado uma substância proibida pelo menos uma vez no ano de 2011.
As apreensões realizadas em operações policiais, que, antes da declaração de “guerra às drogas” se faziam em quilos e, agora, se fazem em toneladas, além de revelarem a expansão da produção e do comércio, ao reduzirem momentaneamente a oferta, acabam por proporcionar uma imediata supervalorização das mercadorias, assim criando maiores incentivos econômicos e financeiros para o prosseguimento daquelas atividades econômicas ilegais.
Mas, a proibição não é apenas uma política falida. É muito pior do que simplesmente ser ineficiente. A proibição causa danos muito mais graves e aumenta os riscos e os danos que podem ser causados pelas drogas em si mesmas.
Desde logo, vale ressaltar que a “guerra às drogas” não é exatamente uma guerra contra as drogas. Não se trata de uma guerra contra coisas. A “guerra às drogas”, como quaisquer outras guerras, dirige-se sim contra pessoas: os produtores, comerciantes e consumidores das selecionadas substâncias proibidas. Seus resultados são mortes, prisões superlotadas, doenças contagiosas se espalhando, milhares de vidas destruídas, atingindo especialmente os mais vulneráveis dentre seus alvos – os pobres, marginalizados, não brancos e desprovidos de poder.
A proibição e sua guerra não se harmonizam com a ideia de direitos humanos. São conceitos incompatíveis. Guerras e direitos humanos não são compatíveis em nenhuma circunstância.
O mais evidente e dramático dos riscos e danos diretamente provocados pela proibição é a violência, resultado lógico de uma política baseada na guerra.
Não há pessoas fortemente armadas, trocando tiros nas ruas, junto às fábricas de cerveja, ou junto aos postos de venda dessa e outras bebidas. Mas, isso já aconteceu. Foi nos Estados Unidos da América, entre 1920 e 1933, quando lá existiu a proibição do álcool. Naquela época, Al Capone e outros gangsters trocavam tiros nas ruas, enfrentando a polícia, se matando na disputa do controle sobre o lucrativo mercado do álcool tornado ilícito, cobrando dívidas dos que não lhes pagavam; atingindo inocentes pegos no fogo cruzado.
Hoje, não há violência na produção e no comércio do álcool. Por que é diferente na produção e no comércio de maconha ou de cocaína? A resposta é evidente: a diferença está na proibição. Só existem armas e violência na produção e no comércio de maconha, de cocaína e das demais drogas tornadas ilícitas porque o mercado é ilegal.
No Brasil, como em outros países, grande parte dos homicídios está relacionada aos conflitos estabelecidos nas disputas pelo mercado ilegal. Outra grande parte dos homicídios no Brasil está relacionada a execuções sumárias em operações policiais de “combate” ao comércio varejista das drogas nas favelas. Nessa guerra, policiais e “traficantes” se embrutecem. A sanguinária “guerra às drogas” ensina, caleja e adestra para a violência, a crueldade, as mortes, os desaparecimentos forçados.
Os sobreviventes dessa guerra superlotam os cárceres. No Brasil, 27% do total de seus quase 600.000 presos são processados ou condenados por “tráfico” de drogas. Entre as mulheres, essa proporção chega à metade das presas. Em seis anos e meio (de dezembro de 2005, a partir de quando começaram a ser fornecidos dados relacionando o número de presos com as espécies de crimes, a junho de 2013), a proporção de presos processados ou condenados por “tráfico” de drogas triplicou (em dezembro de 2005 eram 9,1% do total dos presos brasileiros).
A proibição da produção, do comércio e do consumo das selecionadas drogas tornadas ilícitas foi instituída sob o pretexto de proteção à saúde. No entanto, é a própria proibição que paradoxalmente causa maiores riscos e danos a essa mesma saúde que anuncia pretender proteger. Com a irracional decisão de enfrentar um problema de saúde com o sistema penal, o Estado agrava esse próprio problema de saúde.
Com a proibição, o Estado acaba por entregar o próspero mercado das drogas tornadas ilícitas a agentes econômicos que, atuando na clandestinidade, não estão sujeitos a qualquer limitação reguladora de suas atividades. No mercado ilegal não há controle de qualidade dos produtos comercializados, o que aumenta as possibilidades de adulteração, de impureza e desconhecimento do potencial tóxico das drogas proibidas. A ilegalidade cria a necessidade de aproveitamento imediato de circunstâncias que permitam um consumo que não seja descoberto, o que incentiva um consumo descuidado e não higiênico, cujas consequências aparecem especialmente na difusão de doenças transmissíveis como a AIDS e a hepatite.
Além de criar a atração do proibido, acabando por incentivar o consumo por parte de adolescentes, a proibição dificulta o diálogo e a busca de esclarecimentos e informações entre estes e seus familiares e educadores. A proibição ainda dificulta a assistência e o tratamento eventualmente necessários, seja ao impor ineficazes e ilegítimas internações compulsórias, seja por inibir a busca voluntária do tratamento, ao pressupor a revelação da prática de uma conduta tida como ilícita. Muitas vezes, essa inibição tem trágicas consequências, como em episódios de overdose em que o medo daquela revelação paralisa os companheiros de quem a sofre, impedindo a busca do socorro imediato.
A proibição provoca danos ambientais, seja diretamente com a erradicação manual das plantas proibidas ou pior, com as fumigações aéreas de herbicidas sobre áreas cultivadas, como ocorreu e ainda ocorre na região andina, seja indiretamente, ao provocar o desflorestamento das áreas atingidas e levar os produtores a desflorestar novas áreas para o cultivo, geralmente em ecossistemas ainda mais frágeis.
Nós, integrantes da LEAP, acreditamos que é preciso pôr fim a essa falida e danosa política; acreditamos que é preciso legalizar e consequentemente regular a produção, o comércio e o consumo de todas as drogas.
Legalizar não significa liberação ou permissividade. Ao contrário. Legalizar significa exatamente regular e controlar, o que hoje não acontece, pois um mercado ilegal é necessariamente desregulado e descontrolado. Aliás, poder-se-ia mesmo dizer que “liberado” é exatamente esse mercado que floresce na ilegalidade imposta pela proibição: ao contrário do que acontece em um mercado legalizado, os chamados “traficantes” não estão submetidos a qualquer controle ou fiscalização sobre a qualidade dos produtos que fornecem; para obter maiores lucros, podem misturar a droga produzida e comercializada a outras substâncias ainda mais nocivas; não precisam informar qual o potencial tóxico da droga produzida e comercializada; não precisam fazer qualquer esclarecimento ou advertência aos consumidores sobre os riscos de seus produtos; estabelecem preços livremente; não pagam quaisquer impostos; não estão sujeitos a legislações trabalhistas, podendo empregar, como de fato empregam, até mesmo crianças em suas atividades de produção e comércio; vendem seus produtos onde quer que estejam consumidores; não precisam controlar a idade dos compradores. Legalizar significa pôr fim ao “tráfico”, afastando do mercado esses descontrolados e “liberados” agentes que agem na clandestinidade e devolvendo ao Estado o poder de regular, limitar, controlar, fiscalizar e taxar a produção, o comércio e o consumo dessas substâncias, da mesma forma que o faz em relação às drogas já lícitas, como o álcool e o tabaco.
Nós, integrantes da LEAP, queremos uma política que reduza os efeitos nocivos das drogas e não uma política que soma a esses efeitos violência; mortes; encarceramento massivo; racismo e outras discriminações; agravamento de problemas de saúde; danos ambientais; violação de direitos humanos fundamentais.
Legalizar e consequentemente regular a produção, o comércio e o consumo de todas as drogas, para assim pôr fim a essa falida, danosa e dolorosa política, é a única forma de possibilitar que os problemas advindos do abuso de tais substâncias sejam enfrentados não com sanguinárias, destrutivas e inúteis guerras, mas sim com soluções nascidas da compreensão, da compaixão e da solidariedade.
CITAÇÕES DO TEXTO
[1] Ver www.leapbrasil.com.br
[2] Na Sessão Especial da Assembleia-Geral das Nações Unidas (UNGASS) de 1988 foi lançado o slogan que se tornou famoso “A Drug-Free World – We Can Do It”, transmitindo a anunciada intenção de erradicar todas as drogas ilícitas – da maconha ao ópio e à coca – até 2008.
[3] Relatório do Secretariado para a 57ª Sessão da Comissão de Drogas Narcóticas (CND): “World situation with regard to drug abuse”.http://www.unodc.org/unodc/commissions/CND/
[4] Fonte: Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça.
Fonte: http://carceraria.org.br/drogas-a-necessidade-da-legalizacao.html
Crimes violentos crescem cerca de 7% em Minas Gerais
abril 27, 2015 22:27O número de homicídios reduziu em Minas, BH e região metropolitana, no entanto, os roubos cresceram quando se compara o primeiro trimestre deste ano com o mesmo período do ano passado.
Os crimes violentos aumentaram cerca de 7% em Minas Gerais no primeiro trimestre de 2015, se comparados com o mesmo período de 2014. Ao todo, o estado registrou 29.384 homicídios, tentativas de homicídio, estupros, tentativas de estupros, estupro de vulneráveis, sequestros e cárceres privados, roubos e extorsões mediante a sequestro. Em 2014, foram 27.448 crimes nessas nove modalidades.
Em Belo Horizonte aconteceu o mesmo, o número de crimes violentos cresceu de 9.174 para 9.774, o que representa 6,5%. Na região metropolitana, também há um aumento de 15.422 para 17.194, um total de 11% neste ano.
Quando analisados os crimes separadamente, o homicídio está em queda em Minas Gerais. Considerado o primeiro trimestre, houve redução de 11% no estado, 34% em Belo Horizonte e 19% na região metropolitana. Os roubos, no entanto, cresceram 10,7% para o estado, 8,73% na capital e 14,67% na região metropolitana.
Mudanças de metodologia No primeiro balanço sobre crimes divulgado este ano, a Secretaria de Estado de Defesa Social (Seds) anunciou mudanças na metodologia de registro de estatística. Uma das alterações é a separação dos dados sobre estupros daqueles casos de estupros de vulneráveis, que segundo a Seds, ficaram escondidos em estatísticas desde 2012.
Outra mudança é a atualização sistemática das estatísticas de crimes que de acordo com a Seds, não era feita anteriormente. Dessa forma, ocorrências de crime registradas em datas posteriores à divulgação mensal dos números não entravam para o balanço.
Uma terceira alteração é que a partir deste ano, a Seds vai disponibilizar estatísticas de criminalidade por município. Por fim, o cálculo de taxas de criminalidade violenta passa a usar as estimativas de população feitas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e não mais as projeções da Fundação João Pinheiro (FJP) como foi feito em 2012, 2013 e 2014.
Fonte:http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2015/04/27/interna_gerais,641541/crimes-violentos-crescem-cerca-de-7-em-minas-gerais.shtml
DIREITO À SEGURANÇA
abril 27, 2015 22:22A violência no Brasil e, em especial, a criminalidade violenta, cresceu assustadoramente nos últimos anos, chegando a níveis inaceitáveis. A (in)segurança pública passou a se constituir um grande obstáculo ao exercício dos direitos de cidadania, principalmente nas grandes metrópoles brasileiras.
Com medo da violência urbana e não confiando nas instituições do poder público encarregadas na implementação e execução das políticas de segurança, percebe-se uma evidente diminuição da coesão social, o que implica, entre outros problemas, na diminuição do acesso dos cidadãos aos espaços públicos; na criminalização da pobreza (à medida que se estigmatiza os moradores dos aglomerados urbanos das grandes cidades como os responsáveis pela criminalidade e violência); na desconfiança generalizada entre as pessoas, provocando a corrosão dos laços de reciprocidade e solidariedade social; na ampliação de um mercado paralelo de segurança privada, que privilegia os abastados em detrimento da maioria dos cidadãos, dentre outros dilemas sociais.
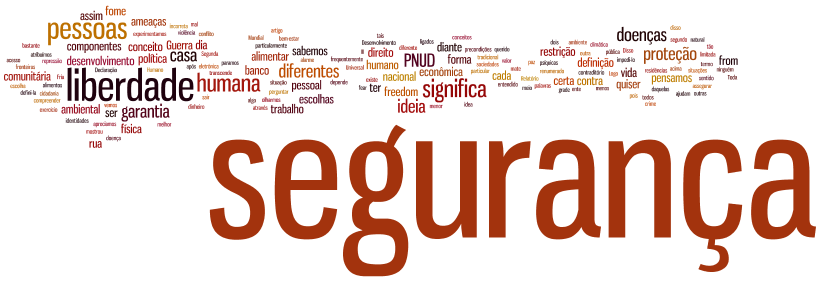
Portanto, pensar numa política pública de segurança que seja inclusiva e eficiente, tendo em vista o exercício pleno da cidadania, significa atender à maioria da população que, refém da criminalidade e sem recursos para mobilizar esquemas de segurança particular, necessita da ação do Estado.
Para responder ao recrudescimento da criminalidade presenciamos uma série de medidas reativas. Em sua quase totalidade, essas medidas enfatizam o aumento do poder punitivo do Estado, simplificando, sem resolver, e, ao mesmo tempo, restringindo as noções de direitos e de cidadania. Um bom exemplo desse tipo de ação desproporcional do aparato repressivo é a estratégia utilizada pelas polícias de ocupar as favelas usando, em muitos casos, exclusivamente a força policial. Os resultados se concretizam em inúmeros danos para a comunidade e para o poder público, como por exemplo, o inaceitável aumento da letalidade da ação policial. Assim, os custos econômicos e sociais desse tipo de operação dificilmente serão compensados.
(...) uma política pública de segurança que seja inclusiva e eficiente deveria atender à maioria da população que, refém da criminalidade e sem recursos para mobilizar esquemas de segurança particular, necessita da ação do Estado.
O argumento de melhorar as condições objetivas da segurança pública nos território violentos das grandes cidades, no futuro, em detrimento da segurança e do bem-estar dos próprios moradores, no presente, é questionável. Primeiramente, porque o poder público não tem efetivas garantias do êxito de suas ações (nem no presente, muito menos no futuro); segundo, porque geralmente a estratégia adotada nesse tipo de ação é altamente belicosa, tendo em vista o aniquilamento, a qualquer custo, do inimigo e, assim sendo, o nível de vitimização de inocentes é extremamente alto – ademais, o Estado não existe para matar, nem mesmo o maior dos criminosos; e mais, todos os estudos demonstram que políticas de segurança pública eficientes dependem de ações permanentes, envolvendo a participação efetiva da sociedade civil – que deve ser parceira e não simplesmente objeto da ação – e, finalmente, porque os fins (por melhores que sejam) nunca devem justificar os meios (principalmente quando se põe em risco a vida de milhares de pessoas inocentes).
A segurança dos cidadãos é, em si mesma, uma questão que inclui os direitos e garantias fundamentais e não o limite (desses direitos e garantias)...
A implementação de políticas preventivas – para o incremento da inteligência e capacidade investigativa das polícias, de mecanismos de controle da ação policial e de participação e ações de autogestão para a resolução de conflitos em locais com altos índices de criminalidade – deveria se constituir como parte fundamental da agenda da maioria dos gestores da segurança pública.
A segurança dos cidadãos é, em si mesma, uma questão que inclui os direitos e garantias fundamentais e não o limite (desses direitos e garantias). Portanto, ao tratarmos da segurança pública como direito do cidadão defendemos a centralidade das políticas sociais e o aprimoramento institucional das agências policiais e judiciárias.
É fundamental, portanto, repensar o lugar e as condições em que as forças de segurança se inserem na nossa sociedade. Na resposta à questão do controle da violência está em jogo o tipo de contrato existente entre a sociedade e o Estado.
Não podemos esperar uma solução mágica para o problema. O fato é que uma visão verdadeiramente universalista da segurança pública permitiria antecipar-se ao conflito com a satisfação dos direitos sociais, principalmente dos grupos mais vulneráveis.
É fundamental, portanto, repensar o lugar e as condições em que as forças de segurança se inserem na nossa sociedade.
Ademais, é fundamental que as políticas de segurança explorem as capacidades institucionais e a consistência entre os níveis de governo (nacional, estadual e municipal), abandonando a ingênua ideia de que lideranças individuais em algum desses níveis, por si mesmas e por sua própria autoridade, resolverão milagrosamente os problemas.
Fonte: http://robsonsavio.blogspot.com.br/
Vitória! Justiça confirma: O direito da livre manifestação dos militares estaduais.
abril 26, 2015 5:12.
Associação de Praças do Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito privado, reconhecida e declarada como Entidade de Utilidade Pública, sem fins lucrativos, regidas por normas de direito privado, não considerada militar, vem, respeitosamente perante todos os Profissionais de Segurança Pública do Estado do Paraná, informar que:
Dr. Davi da VAJME/PR da uma aula sobre o direito da livre manifestação dos militares estaduais, fruto doHABEAS CORPUS protocolado pela Entidade.
01. Observe as principais considerações elencadas pela Entidade no Habeas Corpus da relatoria do Magistrado:
“A respeito do que consta na petição inicial, é certo que a Constituição Federal garante aos cidadãos, civis ou militares (grifei) o direito à livre manifestação, conforme artigo 5° IV da Carta Magna.
A questão da livre manifestação do pensamento foi tratada como um direito e garantia fundamental do indivíduo, verdadeiro tesouro para o exercício da cidadania e preservação da dignidade da pessoa humana (art. 1º I e II da CF).
O legislador constitucional consagrou algo que é da essência de qualquer ser humano, o que seja, o livre pensar. Interpretando a contrário senso, temos como regra geral, a repulsa da sociedade brasileira à implementação de instrumentos de controle e censura da manifestação do pensamento.
Negar ao homem o direito de pensar é algo tão odioso quanto inútil, eis que é do espírito humano pensar, é da natureza dos seres vivos ser livre.
O D. Juízo faz as considerações sobre os direitos básicos de cidadão dos policiais e bombeiros militares:
“Embora o militar exerça função importante de caráter especialíssimo, regido pelos princípios da hierarquia e disciplina, não pode ter relegado seus direitos básicos de cidadão (grifei).”
E segue, agora com a vedação de atos grevistas, e não da manifestação pacífica e ordeira em busca de direitos legítimos:
“O que a Constituição da República veda aos militares é a greve (art. 142, parágrafo 3°, inciso IV), o que difere da manifestação do pensamento de forma pacífica e ordeira que não prejudique a prestação do serviço público, em busca de direitos que julgam legítimos ou contra abusos de autoridades constituídas (grifei).”
O Magistrado comenta sobre situações que não devem ser justificativas para instauração de procedimentos persecutórios:
“De modo que as manifestações, ainda que críticas, que sigam um padrão de civilidade e razoabilidade, expostas pelos meios de comunicação hoje disponíveis (Facebook, whatsapp, etc.) não devem justificar a instauração de procedimentos persecutórios (grifei).”
E ainda, comenta sobre a inadmissibilidade de perseguições posteriores com a instauração de procedimentos disciplinares ou criminais pelo simples fato de participarem de atos públicos pacíficos e ordeiros:
“Da mesma forma seria inadmissível aceitar eventuais perseguições posteriores com a instauração de procedimentos disciplinares ou criminais contra militares, pelo simples fato de terem participado de atos públicos ordeiros (grifei).”
A Constituinte também aparece como previsão legal que autoriza a reunião pacífica e em local aberto ao público:
“A própria Constituição da República em seu art. 5º, inciso XVI, prevê a possibilidade de reunião pacífica e em local aberto ao público:
“XVI – todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente;”
Devemos preservar a dignidade daquele que tem o direito de expressar-se livremente, bem como da pessoa natural ou jurídica que venha a ser ofendida pelo desmando do pensamento exposto. Assim, obviamente, entre os abrangidos pela tutela de proteção da norma constitucional, que rechaça a violência e a agressividade da linguagem, estão as Praças, os Oficiais (Comandantes ou não) e a própria honrosa Polícia Militar do Paraná(grifei).
Somente com esta cautela poderemos construir uma sociedade livre, justa e solidária, promovendo o bem de todos (grifei) (art. 3º I e IV da CF).”
02. Como visto, as considerações do Magistrado alicerça o direito de livre manifestação dos bombeiros e policiais militares, os quais devem pautar o exercício de seus direitos conforme balizas jurídicas constitucionais supracitadas. A Entidade tem o dever de reiterar para seus filiados, e também para toda classe policial, que os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988, também são extensivos a classe dos militares estaduais, devendo ser alimentados diariamente, com o intuito de buscar a politização da classe policial, posto que integram e também fazem parte da Sociedade.
“Na vida temos duas opções: levantar a cabeça e lutar, ou se trancar em si mesmo e esperar que outros lutem por você”.
por Jayr Ribeiro Junior.
Artigo em pdf: VAJME – PR da uma aula sobre o direito da livre manifestação dos militares estaduais, fruto do HABEAS CORPUS protocolado pela Entidade.
Contato: 41 – 9997-0871
Justiça manda prender 5 PMs por farsa que resultou na morte dos 2 pichadores
abril 26, 2015 5:10Tenente Danilo Keity Matsuoka, sargento Amilcezar Silvar, cabos André de Figueiredo Pereira, Adilson Perez Segalla e Robson Oliva Costa foram levados para o Presídio Militar Romão Gomes, na zona norte de SP, neste sábado (25/4). Eles são acusados de matar Ailton dos Santos, 33 anos, e Alex Dalla Vechia, 32, em 2014
Alex Dalla Vechia (à esq.), 32 anos, conhecido como “Jets”, e Ailton dos Santos, 33 anos, o “Anormal”
Os cinco policiais militares acusados de armar uma falsa troca de tiros para tentar encobrir e justificar as mortes do montador Ailton dos Santos, 33 anos, e do marmorista Alex Dalla Vechia, 32, conhecidos entre os pichadores de São Paulo como “Anormal” e “Jets”, foram presos neste sábado (25/4).
A ordem de prisão preventiva (até um possível julgamento) contra o tenente Danilo Keity Matsuoka, o sargento Amilcezar Silvar, e os cabos André de Figueiredo Pereira, Adilson Perez Segalla e Robson Oliva Costa partiu do juiz Rafael Dahne Strenger, do 1º Tribunal do Júri de São Paulo.
Na sexta-feira (24/abr), a reportagem solicitou ao Comando Geral da Polícia Militar de SP e à Secretaria da Segurança Pública entrevista com os cincos policiais militares envolvidos nas mortes de Santos e de Vechia, mas não obteve resposta.
De acordo com o promotor Tomás Busnardo Ramadan, que também atua no 1º Tribunal do Júri e responsável pelo pedido de prisão preventiva contra os policiais, o grupo de militares da polícia paulista “agiu imbuído de motivação abjeta, sem permitir às vítimas qualquer chance de defesa”.
“A periculosidade do quinteto [de PMs] ganha vulto, na medida em que são policiais militares. Deveriam preocupar-se em salvar vidas, jamais ceifá-las”, escreveu o promotor Ramadan no pedido de prisão preventiva contra os cinco policiais militares.
Em fevereiro, a Ponte Jornalismo revelou documentos da investigação do caso que apontavam como os PMs simularam uma troca de tiros com Santos e Vechia para tentar enganar as investigações do DHPP (Departamento de Homicídos e Proteção à Pessoa), da Polícia Civil, e da Corregedoria (órgão fiscalizador) da PM.
Santos e Vechia foram mortos, cada um com três tiros no peito, por PMs da Força Tática (suposto grupo especial de cada batalhão da Polícia Militar) do 21º Batalhão, no início da noite de 31 de julho de 2014, depois de entrarem no edifício Windsor, no bairro da Mooca, zona leste de São Paulo, para tentar pichar o topo do edifício.
Dois policiais militares que estiveram no prédio onde os dois pichadores foram mortos afirmaram à Corregedoria (órgão fiscalizador) da Polícia Militar e ao DHPP (departamento de homicídios), da Polícia Civil, que viram dois rapazes, “ainda vivos e rendidos”, antes do suposto tiroteio alegado pelos quatro PMs que Vechia e Santos.
Dois dias antes de entrarem no Windsor, Vechia e Santo estiveram em um outro prédio na avenida Paes de Barros, a poucos metros desse, no qual foram mortos por PMs. Lá, eles picharam o topo do edifício. A imagem dos dois pichadores acima é dessa ação do dia 29 de julho. Quando foi morto, Vechia não sabia que sua mulher estava grávida de seu sexto filho. Santos deixou uma menina de cinco anos.
Na versão dos PMs da Força Tática do 21º Batalhão, Vechia e Santos invadiram o Windsor para roubar apartamentos. Quando foram surpreendidos pela polícia, os dois pichadores trocaram tiros com quatro policiais militares e, no revide, foram mortos.
Mas os depoimentos de dois dos PMs que estiveram no edifício naquela noite, ambos também do 21º Batalhão, desmontam a história dos PMs da Força Tática para as mortes dos pichadores. Segundo esses dois policiais, cujos nomes a Ponte mantém em sigilo por questões de segurança, Vechia e Santos foram dominados pelos PMs no 12º andar do Windsor.
Os dois PMs afirmaram à Corregedoria e ao DHPP que, quando chegaram ao 12º andar do Windsor, “avistaram dois indivíduos rendidos, com as mãos para trás e deitados com os rostos voltados para o chão, ainda vivos”. Os dois policiais passaram por cima dos rapazes e subiram para o 13º andar e, na sequência, ao 17º andar, o último de acesso do elevador do prédio.
Depois de uma busca no 17º andar, os dois PMs desceram ao térreo, onde fizeram buscas na garagem e no saguão. Nada fora do normal foi detectado pelos, que encontraram com um subtenente no saguão e receberam ordem para voltar ao patrulhamento normal.
Cerca de 15 minutos depois de deixar o Windsor, a dupla de PMs ouviu pela rádio da polícia o tenente Matsuoka, de 28 anos e que havia ficado com sua equipe dentro do edifício Windsor, informar sobre um tiroteio contra dois homens. O oficial também relatou sobre um PM ferido no braço. Era o sargento Amilcezar Silva, 45 anos.
Na versão de Matsuoka e Amilcezar, igualmente repetida pelos cabos Aldison Perez Segalla, 41 anos, e André Figueredo Pereira, 35, quando os quatro PMs entraram no apartamento do zelador do Windsor, localizado no 18º andar do prédio, Vechia estava na cozinha, armado com um revólver calibre 38. Santos, no quarto, tinha uma pistola .380.
Vechia, segundo o que contaram à Corregedoria da PM o tenente Matsuoka e sua equipe, atirou três vezes contra os cabos Amilcezar e Figueredo. Juntos, os dois cabos deram cinco tiros dentro da cozinha, três deles certeiros no peito de Vechia, que morreu.
Ao mesmo tempo em que Vechia era morto na cozinha do apartamento do zelador do Windsor, o tenente Matsuoka e o cabo Segalla também atiraram contra Santos, acusado pelos PMs de ter disparado com uma pistola .380 contra os dois PMs. Na história dos policiais, o tiroteio foi no quarto.
Ferido no peito por três tiros, exatamente como Vechia, Santos também morreu no apartamento 1801 do edifício Windsor. O oficial Matsuoka disse ter dado dois tiros em Santos; o cabo Segalla, um.
Fogo amigo
Quando deixou o Windsor naquela noite de 31 de julho e foi filmado pela imprensa, o sargento Amilcezar apareceu com um ferimento no braço esquerdo. Na versão de outros PMs, ele havia sido ferido por Vechia que, ainda segundo a história dos policiais, atirou com um revólver calibre 38.
Ao analisar o projétil extraído do braço do sargento Amilcezar, os peritos do IC (Instituto de Criminalística) descobriram que a munição era de calibre .40, mesmo padrão das armas usados por policiais no Estado de São Paulo.
Durante a investigação da Corregedoria da PM e do DHPP sobre as mortes de Vechia e Santos, uma carta anônima foi enviada aos responsáveis por descobrir como os dois pichadores foram capturados e mortos pelos PMs.
Na denúncia, o autor da carta, que demonstrou conhecer os jargões utilizados por policiais, descreveu em detalhes a sua versão para o que aconteceu nos andares superiores do edifício Windsor.
Segundo o denunciante, Vechia e Santos foram flagrados por dois PMs no 12 andar. Os pichadores estavam esperando o elevador e foram surpreendidos pelos PMs. Foi nesse mesmo andar que os PMs que contradizem os responsáveis pelas mortes dos pichadores viram os jovens detidos, quando ambos estavam deitados no chão, com as mãos para trás.
Após a detenção no 12 andar, Vechia e Santos, segundo a denúncia, foram levados para o apartamento do zelador do Windsor, no 18º andar, e acabaram executados. O autor da carta chegou a descrever uma discussão entre os PMs para saber quem mataria ou não os dois pichadores.
Enquanto Santos era morto no quarto do apartamento, Vechia, segundo o denunciante, começou a se debater na cozinha e a gritar “por favor, não me mate! Sou só pixador. Não sou ladrão!”
Ao ajustar o ângulo de sua arma para simular que os ferimentos contra Vechia seriam resultado de um tiroteio, o cabo da PM envolvido na morte do pichador, de acordo com o denunciante, disparou e o projétil atingiu o braço esquerdo do sargento Amilcezar.
Kit resistência
Após as mortes de Vechia e Santos, contou o denunciante, armas frias, a pistola .380 e revólver calibre 38, ambos com a numeração raspada, foram plantadas nos corpos para simular um tiroteio dos pichadores contra os PMs e tentar legitimar os tiros dados pelos policiais.
As armas plantadas nos corpos dos dois pichadores, segundo investigam a Corregedoria da PM e o DHPP, foram levadas pelos PMs para dentro do prédio dentro de uma bolsa transportada por um dos policiais que estiveram no prédio naquela noite. É o chamado “Kit Resistência”, itens como armas e drogas colocadas por policiais criminosos junto aos corpos de suas vítimas para forjar tiroteios e tentar legitimar execuções.
Logo após as mortes de Vechia e Santos, o tenente Matsuoka, o sargento Amilcezar e os cabos Figueredo e Segalla foram presos e, menos de um mês após as mortes dos pichadores, foram soltos. Atualmente, eles trabalhavam normalmente.
Outros sete PMs que estiveram no edifício Windsor durante o período em que Vechia e Santos foram mortos também são investigados pela Corregedoria da PM e pelo DHPP. Todos são suspeitos de colaborar para a captura dos pichadores e de colaborar para encobrir suas mortes.
Outro lado
Segundo o advogado João Carlos Campanini, os quatro PMs responsáveis diretamente pelas mortes de Vechia e Santos agiram em legítima defesa.
À Corregedoria da PM, os PMs Matsuoka, Figueredo, Segalla e Amilcezar reafirmaram que só atiraram contra Vechia e Santos depois de os dois pichadores terem disparado contra os militares.
Quando foram interrogados pelo DHPP sobre as mortes de Vechia e Santos, os quatro PMs, orientados pelo advogado Campanini, se recusaram a responder aos questionamentos da delegada Jamila Jorge Ferrari, responsável pelo inquérito policial instaurado pelo DHPP para descobrir como os pichadores foram mortos.
A reportagem não localizou o advogado do cabo Robson Oliva Costa.
Justiça condena internautas por 'curtir' e compartilhar post no Facebook
abril 26, 2015 4:41
Por Redação Olhar Digital - Facebook

(Foto: Reprodução)
Ao curtir ou compartilhar algo no Facebook o usuário mostra que concorda com aquilo que está ajudando a divulgar. Levando esse fato em consideração, o Tribunal de Justiça de São Paulo incluiu os replicadores de conteúdo em uma sentença, fazendo com que cada um seja condenado junto com quem criou a postagem.
O caso foi relatado nesta manhã pela colunista da Folha de S.Paulo Mônica Bergamo, segundo a qual a decisão, inédita, será recomendada como jurisprudência para ser aplicada sempre que uma situação semelhante surgir.
O processo em questão envolve um veterinário acusado injustamente de negligência ao tratar de uma cadela que seria castrada. Foi feita uma postagem sobre isso no Facebook e, mesmo sem comprovação de maus tratos, duas mulheres curtiram e compartilharam. Por isso, cada uma terá de pagar R$ 20 mil.
Relator do processo, o desembargador José Roberto Neves Amorim disse que "há responsabilidade dos que compartilham mensagens e dos que nelas opinam de forma ofensiva". Amorim comentou ainda que a rede social precisa "ser encarado com mais seriedade e não com o caráter informal que entendem as rés".
Bolsonaro é condenado pela justiça e pode ficar inelegível até 2023
abril 26, 2015 4:36Fabio Flores Política
O deputado federal Jair Bolsonaro (PP-RJ) foi condenado pela 6ª Vara Cível do Fórum de Madureira, do TJ-RJ e por esta razão pode se tornar inelegível pelos próximos 8 anos.
O deputado federal Jair Bolsonaro (PP-RJ) foi condenado pela 6ª Vara Cível do Fórum de Madureira, do TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro) a indenizar em R$ 150 mil, por danos morais, o FDDD (Fundo de Defesa dos Direitos Difusos), criado pelo Ministério da Justiça, por causa de declarações contra homossexuais. Cabe recurso da sentença. O parlamentar afirmou, na noite desta segunda-feira (13), que irá recorrer da decisão.
De acordo com o TJ-RJ, a ação, ajuizada pelos grupos Diversidade Niterói, Cabo Free de Conscientização Homossexual e Combate à Homofobia e Arco-Íris de Conscientização, se baseou, entre outras questões, as declarações do parlamentar ao programa “CQC”, da “TV Bandeirantes”, no dia 28 de março de 2011, quando ele fez críticas à comunidade LGBT. A emissora não foi implicada na ação.
Na sentença, a juíza Luciana Santos Teixeira afirmou que a liberdade de expressão deve ser exercida em observação à proteção e dignidade do cidadão.
“Não se pode deliberadamente agredir e humilhar, ignorando-se os princípios da igualdade e isonomia, com base na invocação à liberdade de expressão. Nosso Código Civil expressamente consagra a figura do abuso do direito como ilícito civil (art. 187 do Código Civil), sendo esta claramente a hipótese dos autos. O réu praticou ilícito civil em cristalino abuso ao seu direito de liberdade de expressão”, escreveu a magistrada.
“A decisão é dela e eu tenho que respeitar”, declarou Bolsonaro.
Na defesa, o deputado argumentou que detém imunidade parlamentar, mas a juíza decidiu que a prerrogativa “não se aplica ao caso”.
“Em que pese o réu ter sido identificado no programa televisivo como deputado, suas declarações foram a respeito de seus sentimentos como cidadão, tiveram cunho pessoal – e não institucional”, relatou a Luciana Santos Teixeira.
“Eu acho que a juíza lamentavelmente se equivocou. É a primeira vez que eu perco um processo em primeira instância”,afirmou o deputado, nesta segunda.
Vale destacar que a condenação abre precedente para o deputado ser enquadrado na Lei de Ficha Limpa. Ficha Limpa ou Lei Complementar nº. 135 de 2010 é uma legislação brasileira que foi emendada à Lei das Condições de Inelegibilidade ou Lei Complementar nº. 64 de 1990. A lei torna inelegível por oito anos um candidato que tiver o mandato cassado, renunciar para evitar a cassação ou for condenado, mesmo que ainda exista a possibilidade de recursos.
No Supremo Tribunal Federal, ainda tramitam dois inquéritos contra o deputado. Um é por crime ambiental. Foi aberto porque o deputado foi flagrado pescando na Estação Ecológica de Tamoios, entre os municípios de Angra dos Reis e Paraty, no Rio, em 2013. O outro envolve racismo. Trata da sua polêmica com Preta Gil, que lhe perguntou no programa CQC, da TV Bandeirantes, o que ele faria se seu filho se apaixonasse por uma negra. Respondeu que não discutiria “promiscuidade” com ela.
VEJA AQUI O VÍDEO QUE PODE ENCERRAR A CARREIRA POLÍTICA DE BOLSONARO
A LUTA DOS NOSSOS DEPUTADOS É AQUELA DE QUE PRECISAMOS?
abril 25, 2015 21:30 Nossos deputados federais policiais eleitos em razão dessa função, semana passada encamparam com sucesso uma Proposta de Emenda constitucional que permite ao policial militar eleito para cargo político, ao final do mandato, se desejar, retornar como ativo na PM.
Nossos deputados federais policiais eleitos em razão dessa função, semana passada encamparam com sucesso uma Proposta de Emenda constitucional que permite ao policial militar eleito para cargo político, ao final do mandato, se desejar, retornar como ativo na PM.
Consideram essa iniciativa como uma conquista?
Pois bem, vejamos quais conquistas seriam realmente importantes para mais de três centenas de milhares de policiais militares, operários, que trabalham dia e noite pela manutenção do mínimo de ordem nesse país de meu Deus:
- Carga horária de 40 horas semanais (vide CLT);
- Remuneração noturna diferenciada (vide CLT);
- Auxílio periculosidade ( vide lei 12.997, de 18 de junho de 2014);
- Banco de horas para quando se exceda o expediente em razão do serviço ( vide Lei 9.601/98 );
- Vale transporte;
- Vale alimentação;
- Defensoria gratuita nos processos advindos da função policial militar, através de advogados de verdade (vide estatuto da OAB);
- Fim do assédio moral e sexual dentro dos quartéis;
- Fim das penas administrativas de cadeia (vide RDPM);
- Criação de Cartórios Centrais em lugar das SJD;
- Julgamentos disciplinares nos termos da administração pública e não com fito de justiça militar (invasão de competência).
Acredito que as mudanças que todo policial militar (estou falando dos que trabalham de verdade) deseja, são as que o fazem se sentir respeitado dentro da empresa, e não as que o tornam um boneco numa engrenagem.
A dignidade humana é uma necessidade premente do ser humano policial, e é com ela que nossos "coronéis" deveriam se preocupar.
A dignidade humana é uma necessidade premente do ser humano policial, e é com ela que nossos "coronéis" deveriam se preocupar.
Marco Ferreira - APPMARESP
Por quem os sinos dobram
abril 25, 2015 13:17Por Márcio Sotelo Felippe
// Na Coluna ContraCorrentes
24 de abril é a data em que se lembra o genocídio armênio. Nesse dia de 1915 começou o massacre, com a prisão e assassinato de lideranças e intelectuais armênios, uma das diversas etnias que formavam o Império Otomano. Há farta documentação primária sobre o curso bárbaro dos acontecimentos a partir daí, não podendo haver dúvida razoável de que o extermínio foi uma decisão do Estado otomano. Fatos como 5 mil armênios, inclusive crianças, queimados. Crianças embarcadas para morrerem afogadas. Inoculação do vírus do tifo e as “marchas da morte”, deportação em massa de centenas de milhares de armênios após serem privados de seus bens. Documentos e testemunhos sobre as “marchas da morte” provam estupros, assassinatos, torturas, aniquilação por fome, resultando, ao final de tudo, em cerca de 1,5 milhão de armênios exterminados.
EUA e Japão opuseram-se na época à responsabilização dos dirigentes turcos por razões políticas. A Turquia estava próxima geograficamente da Rússia bolchevique e importava tê-la como aliada. O Tratado de Sévres continha uma cláusula de responsabilização dos dirigentes turcos que desapareceu do tratado subsequente, o de Lausanne. Este, além de retirar a cláusula, incorporou um anexo secreto garantindo imunidade aos turcos. Como afirma Bassouini, “considerações políticas prevaleceram sobre as legais e morais” (Crimes against humanity)
Assim, foi possível a Adolf Hitler fazer esta declaração em agosto de 1939:
“Nossa força consiste na nossa velocidade e na nossa brutalidade. Genghis Khan levou milhões de mulheres e crianças para o abate com premeditação e um coração feliz. Hoje a História vê nele apenas o fundador de um Estado (…) Quem afinal fala hoje do extermínio dos armênios?” (Documento identificado no Tribunal de Nuremberg como L-3 ou “exhibit USA-28”)
O ignóbil cabo errou. Como em tudo que fez em sua miserável vida. Em 2015 falamos, sim, do extermínio dos armênios. E o tanto (não muito) que temos de princípio civilizatório nos conduz ainda à responsabilização de todos que, conduzidos por ele, praticaram outro genocídio com o estímulo adicional de que genocídios, afinal de contas, acabam sendo esquecidos ou podem ser até glorificados pela História.
Foto publicada esta semana mostra um homem de 86 anos, depauperado, entrando em um tribunal apoiado em um andador. Trata-se de Max Eisen, o “contador de Auschwitz”. Sua tarefa era recolher o dinheiro das malas dos detentos que chegavam ao campo e entregá-lo à SS. Também retirava as bagagens, quando chegavam os trens, daqueles que ali já eram destinados à câmara de gás. Segundo a acusação, com isto apagava os vestígios da matança de judeus. É acusado de cumplicidade em pelo menos 300 mil casos.
Será julgado por fatos ocorridos há mais de 70 anos, o que nos ordenamentos jurídicos comuns não seria mais possível. Mas neste caso nunca prescreverão e somente a morte o livrará do peso que, talvez, haja em sua consciência. A matéria diz que ele reconhece sua culpa moral, mas se abstém de falar sobre a responsabilidade jurídica. A interpretação mais razoável para essa frase é que reconhece sua culpa moral, mas não quer ser punido. A matéria diz que suas vítimas não o perdoam. Aqui não se trata de perdão, uma questão subjetiva e pessoal. O Direito apaga, manda não punir por considerações racionais. Não “perdoa”. Há uma racionalidade na prescrição ou na anistia na maioria dos casos. Quando a humanidade é ameaçada, quando milhões de pessoas são ou podem ser exterminadas, a racionalidade aponta em outra direção.
Por que podemos punir, mais de 70 anos depois, esse funcionário subalterno de Auschwitz? Porque o princípio civilizatório não pode admitir a possibilidade de que, daqui a uns 150 anos, alguém possa dizer, tal como Hitler, “quem fala hoje do extermínio dos judeus” ou algo como “nada aconteceu aos nazistas genocidas”.
Isto tudo tem que permanecer de forma indelével na memória da humanidade por todos os séculos, enquanto seres humanos pisarem o solo do planeta, e jamais deixar de ter consequências jurídicas.
O genocídio dos armênios não é reconhecido pela maioria dos Estados contemporâneos, que relutam porque não querem atritos políticos com a Turquia. A Turquia, ao contrário dos alemães, ainda pensa que não se pode distinguir assassinos da própria sociedade em que vivem ou viveram esses assassinos. Continua a vigir, de algum modo, o anexo secreto do Tratado de Lausanne que deu imunidade aos turcos.
Considerações políticas, razões de ordem prática, tolas “sabedorias de vida” do tipo “vamos viver o presente e deixar o passado para trás” são tijolos que edificarão outros genocídios. São perigosas para nós e para as gerações que virão porque estamos diante do mais poderoso, letal, ofensivo ente que a História jamais conheceu: o Estado moderno. E esse ente historicamente inédito, esse aparato excepcional, exige também respostas excepcionais. O século XX construiu e consolidou, de pleno direito, os crimes contra a humanidade. Eles são a única defesa jurídica que a humanidade tem contra a mais poderosa arma que a História conheceu, o Estado moderno.
Filósofos e todos nós costumamos nos atrapalhar com palavras. Às vezes usamos uma mesma palavra para dizer coisas diferentes e podemos nos matar por esses sentidos. Quando falamos hoje em Estado, falamos, no entanto, em algo que é ontologicamente distinto do Estado da Atenas antiga, ou do Estado feudal ou do absolutista. Não podemos pensar no Estado moderno como pensamos na polis ateniense ou na França feudal.
O Estado moderno reúne quatro características que o tornam historicamente singular: ele detém o monopólio da violência, da tributação e da norma jurídica. Com isto pode concentrar e dominar todos os recursos que a ciência e a tecnologia colocam ao dispor de quem tem recursos e poder. O século XX demonstrou à saciedade como isso pode e é utilizado para exterminar em massa seres humanos.
Aquele 1,5 milhão de armênios, as milhões de vítimas do Estado nazista, os milhares de mortos dos Balcãs, os 800 mil de Ruanda, os 2 milhões de cambojanos vítimas do Khmer Vermelho só foram possíveis porque existe o Estado moderno, a mais letal de todas as armas.
Os crimes contra a humanidade são, por isso, pela sua fabulosa ofensividade, por colocar em ameaça coletividades e parte da humanidade, imprescritíveis e não suscetíveis de anistia. São crimes de Direito Internacional (não importa o que o Direito interno diz) e sua característica essencial é de serem ofensas graves praticadas em decorrência de uma política de Estado, sistemática ou generalizadamente. Chefes e colaboradores de organizações criminosas não estatais (como a máfia) não são sujeitos ativos de crimes contra a humanidade. Estão sujeitos à legislação interna apenas. Mas quando se trata de dirigentes políticos, são crimes e criminosos de Direito Internacional. Nenhum funcionário desse Estado, por mais subalterno que seja, tendo participado efetivamente da cadeia direta de fatos que conduziram aos crimes, está imune, desde que se possa reconhecer uma escolha moral de não participar. Por isso, aos quase 90 anos e mais de 70 anos depois, “o contador de Auschwitz” não pode fugir de sua responsabilidade jurídica. Por isso, é inaceitável que os armênios ainda clamem e não sejam ouvidos pela comunidade internacional em memória de seus 1,5 milhão de mortos, perpetuando de algum modo a barbárie porque consente quem cala.
O Estado brasileiro tem problemas graves com a questão dos crimes contra humanidade. Anistiou os responsáveis pelos 400 mortos e 20 mil torturados pela ditadura militar. Não cumpre a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos que julgou inválida essa anistia. Nunca tratou do genocídio indígena, que ainda persiste. Também se omite na questão do reconhecimento do genocídio armênio.
Questões políticas e a lógica própria de funcionamento dos Estados fazem com que, ao fim e ao cabo, seres humanos resultem supérfluos ou algo menos do que humanos. Por isso podem ser exterminados e por isso, se exterminados, podem ser ignorados. Mas os sinos dobram por todos nós.
“Nenhum homem é uma ilha isolada; cada homem é uma partícula do continente, uma parte da terra; se um torrão é arrastado para o mar, a Europa fica diminuída, como se fosse um promontório, como se fosse a casa dos teus amigos ou a tua própria; a morte de qualquer homem diminui-me, porque sou parte do gênero humano. E por isso não perguntes por quem os sinos dobram; eles dobram por ti.” (John Donne, poeta inglês, 1572-1631)
Em cada armênio, judeu, negro, indígena, cigano exterminado morremos juntos. Os sinos dobram por todos nós. Por ti, leitor.
(Dedicado a Marcelo Augusto Boujikian Felippe, Mariana Boujikian Felippe e Isabel Boujikian Felippe, meus filhos armênios)
Marcio Sotelo Felippe é pós-graduado em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Universidade de São Paulo. Procurador do Estado, exerceu o cargo de Procurador-Geral do Estado de 1995 a 2000. Membro da Comissão da Verdade da OAB Federal.
Junto a Rubens Casara, Marcelo Semer, Patrick Mariano e Giane Ambrósio Álvares participa da coluna Contra Correntes, que escreve todo sábado para o Justificando.






 Traficante fica com ex-mulher de rival e ainda o executa em Brumadinho
Traficante fica com ex-mulher de rival e ainda o executa em Brumadinho









